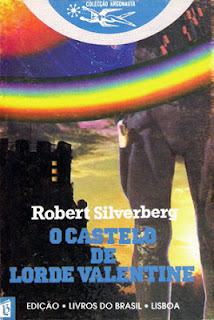O Castelo de Lorde Valentine (
bib.), romance de Robert Silverberg pertencente à série ambientada em Majipoor, é uma fantasia científica que chegou a ser nomeada para um Hugo (perdendo para outra fantasia científica, algo mais fantasiosa e menos científica do que a de Silverberg:
A Rainha de Gelo, de Joan D. Vinge). Para quem não conhece, Majipoor é um planeta gigantesco cuja população nativa, os metamorfos, capazes de se transformar em tudo e mais alguma coisa, motivo pelo qual ninguém morre de amores por eles, está subjugada e reduzida a reservas (até certo ponto voluntariamente). Quem domina o planeta é um conjunto de outras espécies, oriundas de outros mundos, que lá se instalaram. Com primazia dos humanos, como tantas vezes acontece. Tudo é gerido de forma absolutista pelo Coronal, uma espécie de imperador planetário que reside numa espécie de castelo erguido no cume de uma montanha que reduziria à insignificância o Monte Olimpo, em Marte — a maior montanha do Sistema Solar. Coronal esse cujo poder é no entanto contrabalançado por três outros poderes semidivinos.
A série, embora isso não seja tão marcado no belo
As Crónicas de Majipoor como é aqui, utiliza a velha máxima de que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia para se servir de uma estrutura, e de várias técnicas literárias, típicas dos romances de fantasia. O herói, bastante típico enquanto tal, é Valentine, um jovem que começa o romance amnésico e perdido num lugar remoto, embora na posse de uma bolsa recheada de ouro. Todo o romance consiste numa jornada do herói, pois Valentine depressa começa a descobrir que entre ele e o
Lorde Valentine, o Coronal, há mais laços do que a mera coincidência do nome. Laços que vão a pouco e pouco revelando uma conspiração política inaudita nos anais do planeta, e que o levam a atravessar dois continentes, acompanhado por um grupo cada vez mais numeroso de seguidores (estes começam por ser uma trupe de malabaristas), para desencadear uma revolução.

Não tenho bem a certeza se se pode dizer que este livro é
sobre o poder e os seus limites. Mas certamente que o poder, a sua variedade, os ressentimentos e ódios que pode gerar, têm nele papel importante e fazem uma grande contribuição para o avançar da história. Também não me parece que se lhe possa chamar um livro político, apesar da política estar nele bem presente. Uma política medieval, para a qual são mais importantes as alianças entre os vários membros da aristocracia do que propriamente a capacidade de ganhar o apoio das massas (de forma bastante típica da maior parte da fantasia, este é uma consequência daquelas). Tudo se centra no herói, na (re?)aprendizagem do herói, nas relações que o herói vai estabelecendo, nas fidelidades ou infidelidades que se vão revelando, nas aventuras a que vai sobrevivendo. Nada de muito aprofundado, apesar da extensão do romance. Este tem algo de juvenil, e a sua extensão deve-se mais ao fascinante mundo que Silverberg criou e nos mostra do que propriamente a peculiaridades da organização social e política dos seus habitantes ou a um grande desenvolvimento das personagens.
Para mim, é isso o que aqui é mais interessante: o próprio planeta Majipoor, as suas paisagens, as estranhas criaturas que o habitam, inteligentes, não inteligentes ou assim-assim. O sentido de maravilha que o mundo provoca. Ou
me provoca, pelo menos.
Mas também acho que este livro, tal como
Duna, embora de uma forma algo diferente, poderia ser uma ótima ponte para que um público que, apesar da recente onda de distopias juvenis, ainda está a meu ver demasiado preso à fantasia (ou até a um determinado
tipo de fantasia), comece a descobrir a ficção científica e a tomar contacto com algumas das suas características. Isto, bem entendido, na condição de ser reeditado como deve ser. Sim, que esta é uma edição da Argonauta na sua fase de declínio total. Está
muito longe de ser uma boa edição.
Por conseguinte, não gostei muito dela. Chateia-me quando abro um livro, leio dez páginas e ele começa a desfazer-se. Chateia-me quando leio sistematicamente "viajem" em vez de "viagem". Chateiam-me várias outras coisas do género. E, pessoalmente, não sou grande fã de heróis e das suas jornadas. Mas há quem seja, e julgo que, para esses, este é um livro realmente bom. Ou pelo menos poderia sê-lo, se bem editado.
Este(s) livro(s) foi(ram) comprado(s).