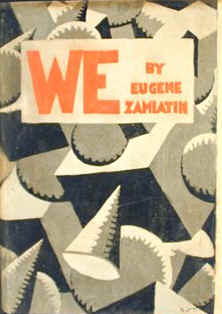No século XVIII, colocando-se contra a doutrina cartesiana (que, por vezes, queria até ser mais cartesiana que o próprio Descartes), o filósofo e historiador Giambattista Vico alertava contra o perigo de uma excessiva auto-contemplação, produzida pelo cultivo de uma mundividência mecânica e pelo materialismo determinista; com efeito, o aviso de Vico é ainda mais pertinente hoje, quando, em excessiva auto-contemplação, tratamos o inorgânico como estando vivo e o orgânico como sendo lixo — pois que outra coisa não é a actual antropomorfização da Tecnologia, desenhada sem arestas, cada vez mais dúctil e dotada de voz, e a objectificação de seres vivos considerados insignificantes?
A explicação para essa atitude é simples: construímos a Tecnologia — a Máquina — à nossa imagem, intentando a demanda de torná-la tão autónoma e tão inteligente como nós, em arremedo aberrante de um acto sobrenatural de Criação que dizemos não acreditar, mas do qual não sentimos outra coisa a não ser inveja; e no obsessivo desiderato de absorvência na nossa sósia imperfeita sentimos uma distância cada vez mais inconciliável com criaturas que nos recordam ominosamente as nossas raízes animais.
Esse límpido espelho plasma a secreta estratigrafia terionómica que, à guisa de gravidade, faz de nós satélites do mundo natural, em órbita cada vez mais apartada, mas satélites ainda assim. É uma infelicidade imensa que se viva, hoje, num umbroso período de, como dizia Vico, excessiva auto-contemplação: amamos o electrodoméstico e vivissecamos o animal. Crimes hediondos como o recente massacre de animais selvagens no circuito fechado da herdade da Torre Bela por um punhado de ditos caçadores é uma amostra alucinante da doença tecnófila que nos enferma: fotografias do extermínio tiradas com telemóveis pelos perpetradores e publicadas na Internet filtram pela antropomórfica tecnologia a realidade sanguinolenta da chacina, precipitando imagens já solucionadas em unidimensional ilustração de um ajuste de contas com a nossa animalidade, rechaçada à bala e ao obturador em obscena gramática.
Essa obscenidade frui da superfluidade de todo o conjunto, espécie de happening ao estilo dadaísta ou futurista — e não era à toa que esses movimentos de ruptura idolatravam a velocidade, a metralhadora e a máquina: na constelação novecentista do Novo Homem só são autorizadas armas e ferramentas, instrumentos de Guerra e de Trabalho, as duas olímpicas condições pelas quais o humano descaroça o pêlo, as escamas e as penas que consituem a infernal herança zoomórfica e alcança o hieropódio.
Descartes tentou descobrir como funcionava a imaginação vivissecando cérebros de animais — e, de facto, continuamos a acreditar que a bala e o escalpelo são ferramentas úteis para lidar com a vida. Somos fetichistas da morte: idolatramo-la, como os Futuristas — e, como estes, reservamos o afecto para a Máquina, duplo imortal do barro, a que só falta o sopro da vida para ser Humano 2.0.
Amamos a Máquina como se estivesse viva e amamos personagens fictícias com maior paixão que gente de carne e osso. Amamos os novos nomes e avatares virtuais que inventamos para ocultar a carnalidade. Amamos os assépticos sémen e sangue pixelizados. Amamos tudo aquilo, em suma, em que reconhecemos a nossa imagem transvertida em durável hóstia digital. Amamos o sonho da eternidade robótica, a nuvem da juventude. Como pode o mudo e efémero animal competir com essa brilhante estrela?
Na historiografia de Vico, em A Ciência Nova, o ser humano é um anão que descende de uma espécie gigante pós-diluviana, topos tão metafórico quanto consonante com as doutrinas científicas da época sobre o aparecimento do Homem na Terra. Não obstante o discurso antropogónico actual, que teoria poderia ser tão justamente aplicada ao nosso tempo que a do ser humano como um anão que se acha ainda gigante? Ou que almeja agigantar-se através da liquidação da sua própria animalidade?
No massacre de animais da Torre Bela vejo a caricatura e o aviso de Vico, ecoando barroco do século XVIII: desde essa altura, a única coisa que agigantámos foi a nossa abjecta vaidade. Sinto um nojo visceral por essa vaidade que hoje chamamos de Progresso.