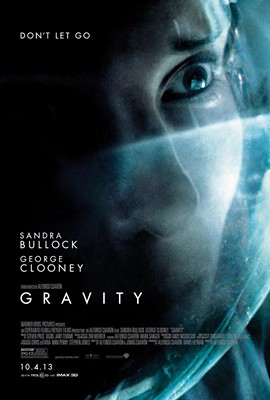Iniciando e terminando numa estética e cinematografia muitíssimo inspiradas em Stanley Kubrick, o filme Alien: Covenant (2017), de Ridley Scott, é a segunda parte de uma nova série de prequelas que este cineasta anda ou andava a filmar para o seu filme Alien (1979). Como eu não gostei da primeira prequela, Prometheus (2012), só vi este filme recentemente.
Alien: Covenant é bem melhor que Prometheus: mais despretensioso, coeso e eficaz; mas essas qualidades, em relação ao filme precedente, quando observadas por si só demonstram que o seu potencial é atrofiado por um ritmo apressado — que, suspeito, se corresponda com alguns cortes feitos para que a versão de exibição em sala andasse por volta das duas horas de duração — e alguma desorientação provocada pela indecisão entre o filme de sustos e a especulação metafísica, não chegando a encontrar um modo convincente de harmonizá-los.
E, de facto, o potencial de Alien: Covenant concentra-se nos momentos de especulação metafísica, à Kubrick; talvez, um Kubrick já filtrado pelos tropos de séries televisivas como Lost, por exemplo (nesse aspecto, Prometheus era pior). Aqui, essa especulação hesita entre dois conceitos que nunca chegam a encontrar-se: o dos já nossos conhecidos xenomorfos e o da Inteligência Artificial nas presenças dos homens sintéticos David e Walter, um mau e um bom, respectivamente, ambos interpretados por Michael Fassbender.
Não fiquei inteiramente convencido pela escolha de explicar-se a origem dos xenomorfos como sendo uma criação do andróide David, espécie de Anjo Mau decepcionado com a humanidade (sem se perceber bem porquê, refira-se), satânico e com a mania das grandezas; mas intuo que parte das suas motivações teriam sido expressadas com maior nitidez antes dos tais cortes que eu suspeito terem existido. O argumento de John Logan (argumentista de Gladiator e The Last Samurai, por exemplo) faz o que pode para resolver as pontas soltas deixadas pelo filme anterior, mas a pressa com que quer despachá-las para pôr novas ideias a mexer resulta em superficialidade.
Parecerá perda de tempo estar a escrever estas linhas sobre um dos mais esgotados monstros de Hollywood, protagonista de filmes péssimos, mas Alien: Covenant, realizado por Scott, autor do filme que originou os tais epígonos, toma bem o pulso à sensibilidade contemporânea e é nesse sentido que é interessante: o monstro já não é o xenomorfo, mas o homem sintético.
Diga-se que no universo de Alien os andróides sempre foram figuras de grande ambiguidade moral e até malévolos, mas com a introdução da personagem David a fasquia da desumanidade dos seres artificiais sobe a outra altura: este protagonista, cujas motivações, repito, nunca são satisfatoriamente explanadas (nem precisariam se o resultado soasse mais equilibrado), parece odiar toda a matéria viva — a carne, pelo menos —, criando um novo ser cujo ethos se aproxima do da máquina de extermínio. O Novo Diabo, como o antigo, é incapaz de criar, só consegue distorcer e corromper aquilo que já fora criado. No fundo, Alien: Covenant é teologia secularizada pela novíssima catequese da Inteligência Artificial: a Besta dos filmes anteriores verticalizou-se e agora tem uma forma ainda mais humana; narcísica inversão que corporiza o medo da máquina substituta — no trabalho, no lazer e, sobretudo, no plano ontológico. Numa coisa, Alien: Covenant provavelmente acertou: inteligência e forma andarão de mãos dadas, porque mente e corpo são uníssonos; logo, uma inteligência de tipo humano precisará dessa configuração.
Aliás, estou a lembrar-me, entre outras referências, de um livro que Jeffrey J. Kripal publicou há uns tempos, intitulado The Flip, que discorre sobre a hipótese de a mente anteceder a matéria — é certo que neste campo está-se já plenamente no domínio do metafísico, da especulação filosófico-teológica, se se lhe quiser chamar isso, mas, de facto, essa interrogação dirige-se ao mesmo problema de perceber que objectos com a forma de uma torradeira dificilmente alcançariam uma epifania autónoma de Inteligência Artificial de tipo humano. Assim, os robôs de Interstellar (2014), por exemplo, serão muitíssimo inverosímeis (não obstante, para esse filme, não ser inteiramente claro se a sua inteligência artificial é autónoma ou dependente das hipóteses programadas pelos engenheiros de robótica — apostaria na segunda hipótese, com concessões à primeira quando o filme exige maior dramatismo).
No geral, a admiração que nos filmes da série Alien os andróides sentem pelo xenomorfo relacionar-se-á com o sentimento de superioridade que os motiva: sentir-se-ão superiores em força e inteligência aos humanos e o organismo extraterrestre será, a seus olhos, a única coisa que os transcende naquilo que entenderão ser a perfeição do seu desenho. Até Bishop, o Bom Andróide, altruísta e confiável, da sequela Aliens (1986) — filme que, em alguns aspectos, é ainda melhor que o original —, se deixa levar pela admiração quando examina a criatura no laboratório.
Poderá ser que através do xenomorfo, os andróides se aproximam de algo que os homens não lhes conseguem dar: a sensação da Transcendência — pois apesar de serem seus criadores, são vistos como inferiores, o que cria contradições insanáveis numa relação profundamente desigual. Poderá ser, até, que através do extraterrestre os andróides — ou homens sintéticos — sintam, pela primeira vez, o despontar de um sentimento de tipo religioso. Talvez no desenvolvimento desse sentimento comunguem, finalmente, do cálice do sentimento humano. Ou até do sentimento orgânico: será a religiosidade apanágio de toda a Carne, uma comunicação emitida pela Criação e que cada organismo sintoniza segundo a sua natureza em específico? Questões aqui acessórias, pois o filme nem sequer se preocupa com elas.
Resumindo: um filme melhor que o antecessor, mas prisioneiro das suas indecisões entre ser filme de sustos e inquietação metafísica. No final, como no início, chama-se Richard Wagner para emprestar monumentalidade ao subtexto e damos por nós a pensar que pela voz de deuses e dragões a tetralogia de O Anel do Nibelungo (1869-1874) continua a dizer mais sobre a natureza humana do que os homens sintéticos da actual ficção científica cinematográfica — ou seja: o filme ganharia em falar pelo dragão em vez de falar pelo robô.