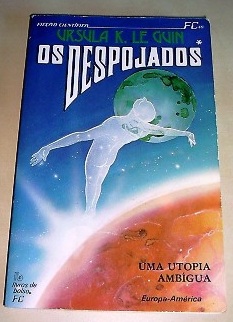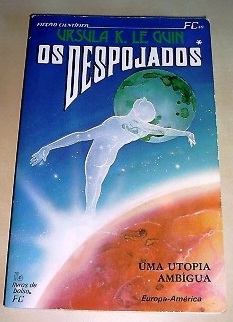É Espantosa A Marca que o tempo nos deixa. Tenho recordações mais vívidas e presentes dos primeiros dez anos de leituras de Ficção Científica que dos vinte e tais que se lhes seguiram. Posso, quase sem necessidade de folhear os livros, descrever-vos com pequena margem de erro as primeiras dezenas de títulos da Livros de Bolso FC da Europa-América.
Entendo perfeitamente que, quem tivesse crescido com a Argonauta, encarasse a Bolso FC como uma jovenzinha ainda com provas para dar; afinal, a Argonauta existia desde 1957, enquanto que a última iniciara-se, agora mesmo, com a década de 80 e ainda por cima recorrendo no número inaugural à novelização do primeiro episódio da Galáctica (da série original). Contudo, foi a Bolso FC que me apresentou o universo glorioso e infinito da Ficção Científica, qual epifania religiosa, e por isso é esta que acabo por colocar em primeiro plano. Não me admira que sejam diferentes as lealdades de quem cresceu com as colecções Via Láctea e Viajantes do Tempo da Presença; mesmo quem acompanhe mais a Bang! distinguir-se-á de quem prefira a 1001 Mundos, tendo sido marcado por temas e autores, embora próximos, com suficientes graus de separação. Sem dúvida que os editores actuais são mais participativos – fruto dos tempos. Os editores da Europa-América e da Livros do Brasil existiam atrás das fortalezas, e não tínhamos acesso às suas opiniões e preferências, a não ser quando explicavam as escolhas num texto introdutório ao livro do mês.
É natural supor que seria difícil escolher a obra a recomendar, a partir do leque de títulos que a editora foi mantendo disponíveis e reeditados, até finalmente perceber que o filão esgotara. A colecção surge ainda nas Feiras do Livro, não tão coleccionável quanto a Argonauta, mas repleta de bons e antigos exemplos de como se podia manter qualidade e baixo preço e formato de bolso num só pacote (e sim, estou perfeitamente ciente de que me refiro à empresa que anos mais tarde se tornaria sinónimo de displicência editorial). Mas, das centenas de números, há um livro que sobressai sem dificuldades.
Os Despojados – Uma Utopia Ambígua, de Ursula Le Guin, merece um destaque maior e melhor do que o espaço limitado desta recomendação. Dizer que o considero como o melhor romance de FC que conheço acaba por ser redutor, além de ser também um convite ao debate. Dizer que se trata de leitura obrigatória para qualquer aspirante a escritor, é ser minimalista. Coibi-me propositadamente do exagero «o melhor romance de FC de sempre», por que, obviamente, não li todos os romances que existem, nem nunca serei humanamente capaz de o fazer. Mas terá seguramente o meu voto para, no final dos tempos, acabar no pódio, entre os três primeiros.
Muito da afirmação acima reflecte o meu ideal de FC, e muito deste ideal deve-se precisamente a este livro. Tal como a obra, definir a FC torna-se num processo circular, taoista, que encontra na experiência passada o alimento para a era seguinte. De certa forma auto-fágico, mas em grande medida uma procura da excelência que só consegue ser obtida a partir do apuramento da raça, imune a contaminações externas.
Mas em que consiste então o melhor romance de FC que conheço?
Conta a história de Shevek, físico teórico de uma lua anarquista chamada Anarres. A lua foi colonizada há século e meio por uma comunidade de dissidentes políticos mundiais que negociaram com os governos comunistas e capitalistas do planeta-mãe (Urras) a expatriação para os territórios desérticos – mas habitáveis – do satélite em troca de, basicamente, os deixarem governar em paz. Ajudou para esse processo que Anarres fosse um lugar de sobrevivência difícil, com parcos recursos, obrigando a colónia a instituir processos de rotação de voluntariado para tarefas manuais exigentes, de forma a que o trabalho mais pesado fosse cumprido.
Não tendo o luxo de tecnologia sofisticada, Anarres é apresentado como um lugar de trabalho manual intensivo, empenhado no dever, reservando pouco espaço para o prazer do espírito e para a sofisticação intelectual. Ao mesmo tempo, é-nos dito, funciona como um organismo permanentemente exercitado, sem excessos nem gorduras nem distracções, eficiente, focado e saudável. Livre. Livre para se sentir pleno e recompensado.
Que futuro terá então um físico teórico no meio desta comunidade? A autora apresenta-nos com uma maestria excepcional a dicotomia entre trabalhador e pensador; entre mero homem representante do povo e cultura em que nasceu, e génio destinado a descobrir as leis íntimas do universo. Um equilíbrio difícil que, no final, é humano e imperfeito, e varia consoante a vontade e motivação pessoais, bem como a capacidade de aceitação do seu povo – capacidade que, ele acaba por perceber, é reduzida.
O génio precisa de outros génios com quem trocar ideias. As ideias, afirma Le Guin, são como a relva, precisam da chuva e do sol, crescem melhor quando são pisadas. Mas para encontrar esses génios, precisa de sair de Anarres. Precisa de fazer o caminho inverso do seu povo, regressar à terra da luxúria, ao pecado original. Não obstante trocas comerciais necessárias mantidas pelo sindicato, Anarres vive de costas voltadas para Urras, apelidando-o de nomes feios, nomes políticos. Se Shevek encetar a viagem, será o primeiro embaixador de Anarres em muitas décadas. E, por que estamos neste tipo de romances, Shevek viaja.
O livro mostra-se desde o início como uma história circular, alternando os capítulos da passagem por Urras com a história de vida de Shevek em Anarres até tomar essa decisão. As partes, assim misturadas, formam um todo harmonioso que não seria tão eficaz se a separação fosse linear. Além disso, contribuem para sustentar uma variante literária da parábola de Zenão, que surge a meio do livro: qualquer que seja a meta, faltará sempre metade do caminho para a atingir – metade da distância que agora a separa, e chegado a esse ponto intermédio, metade da distância entre essa metade e o final. Nunca se atinge o objectivo, afirma o paradoxo, porque faltará sempre metade da distância a percorrer, ainda que infinitesimal. Esta parábola é uma tradução das séries convergentes, um instrumento matemático que representa a infinidade. Tradução também de fenómenos físicos como a relatividade – jamais conseguiremos atingir a velocidade da luz, por que o esforço energético para adicionarmos pequenos incrementos de velocidade à nossa nave torna-se exponencial quando nos aproximamos desse limite imposto pelo universo; cair para um buraco negro resulta num fenómeno semelhante, pois o tempo estende-se até ao infinito, prolonga-se em direcção à eternidade, abrandando mas sem nunca parar, tornando a queda numa condenação eterna.
Que um livro consiga este casamento tão perfeito entre ciência, estrutura narrativa, tema e abordagem literária é sublime. É deslumbrante observar como, frase a frase, minuciosamente e sem dispender palavras desnecessárias, Le Guin consegue, em simultâneo, apresentar uma sociedade política anarquista baseada nos modelos de Kropotkin; ser adulta o suficiente para não se deixar enganar pelas suas preferências e abordar com clareza os problemas inerentes a essa pseudo-utopia (daí o título «utopia ambígua»); fazer reflectir a dualidade social na personalidade do protagonista e na sua necessidade entre perseguir um sonho ou ser um homem integrado na terra e no povo em que nasceu; explicar a sua postura em termos práticos, fugindo da solução fácil de ostentá-lo como profeta ou demagogo, mas sustentando-o firmemente na base da ciência, levando-o para Urras não como um homem de ideais mas de ideias – ideias práticas, matemáticas, demonstráveis, mais fortes que qualquer vontade ou interpretação humana; explicar a ciência, e efectivamente convertê-la, em filosofia pessoal, numa clara homenagem à interpretação do universo que a Relatividade e a Mecânica Quântica nos trouxeram; e no final, confrontar dois sistemas políticos distintos, com conjuntos de valores constrastantes, para um final necessário e lógico, circular na sua essência, ainda que possivelmente, e em certa medida, forçado.
A frase final «As mãos estavam vazias, como sempre» explicam Anarres com uma magistral economia de palavras, dando continuidade circular à frase de abertura «Havia um muro». Tudo, tudo, tudo neste romance está pensado, trabalhado, polido, encaixado. Tudo nele faz sentido. Tudo nele brilha e fica na memória.
E como se não bastasse, é uma obra com uma qualidade de prosa invulgar na FC norte-americana, e digamos mesmo, na ficção moderna de língua inglesa.
Os Despojados foi publicado em duas partes - números 46 e 47 -, na Bolso FC da Europa-América, com capas de Rui Ligeiro, e uma tradução notória de Maria Freire da Cruz, que faz juz à qualidade da obra e em alguns momentos a verte de forma impecável para a nossa língua, respeitando a intenção da autora sobre a economia e a beleza das frases. Um dos melhores momentos de sempre (aqui já o afirmo com segurança) da edição de FC em língua portuguesa. E que hoje é vendido, nas barracas da Feira do Livro, por um valor irrisório...