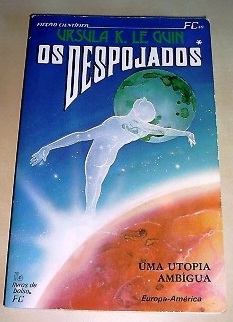Daqui Para Cima É Sempre A Descer, ou o início.
Arquivo do mês: Maio 2010
Ligações Da Quinzena.
Ligações Da Quinzena. Porque a internet anda por aí. Ou assim o afirmam.
- Uma apreciação bastante interessante da antologia Brinca Comigo!
- Críticas a: Nome do Vento, Os Melhores Contos Brasileiros de Ficção Científica, Galeria do Sobrenatural, Se Acordar Antes de Morrer, O Evangelho do Enforcado
- Lançamentos de: Guerra Justa, Maximum Lifespan, FuturaBold 1.0
- Artigo no Guardian sobre as raízes da fantasia
- A Biblioteca Infernal de Zoran Zivcovic esteve em cena no Porto pela DireitÀcena.
- Entrevista com Pedro Mota, português radicado em França, há muito divulgador da FC
- Clarke e o prémio
- O ciberpunk é africano?
- SpaceBlooks no Brasil: um, dois, três
- Sabia que existem filmes brasileiros de FC?
- Áudio-conto de Carla Ribeiro
Ligações Da Quinzena. Porque a internet anda por aí. Ou assim o afirmam.
- Uma apreciação bastante interessante da antologia Brinca Comigo!
- Críticas a: Nome do Vento, Os Melhores Contos Brasileiros de Ficção Científica, Galeria do Sobrenatural, Se Acordar Antes de Morrer, O Evangelho do Enforcado
- Lançamentos de: Guerra Justa, Maximum Lifespan, FuturaBold 1.0
- Artigo no Guardian sobre as raízes da fantasia
- A Biblioteca Infernal de Zoran Zivcovic esteve em cena no Porto pela DireitÀcena.
- Entrevista com Pedro Mota, português radicado em França, há muito divulgador da FC
- Clarke e o prémio
- O ciberpunk é africano?
- SpaceBlooks no Brasil: um, dois, três
- Sabia que existem filmes brasileiros de FC?
- Áudio-conto de Carla Ribeiro
Polémicas em .pt, «p(i)c», q.b, sobre FC & F
Polémicas na blogosfera portuguesa, «políticamente (in)correctas», quanto baste, sobre a ficção científica e fantasia que por cá se vai lendo e escrevendo, não têm faltado recentemente… e felizmente. Os seus protagonistas principais assumem as suas identidades e as suas opiniões, embora, o que é inevitável, apareçam sempre alguns anónimos, quase […]
Polémicas na blogosfera portuguesa, «políticamente (in)correctas», quanto baste, sobre a ficção científica e fantasia que por cá se vai lendo e escrevendo, não têm faltado recentemente… e felizmente. Os seus protagonistas principais assumem as suas identidades e as suas opiniões, embora, o que é inevitável, apareçam sempre alguns anónimos, quase […]
Coisas Que Passam Pela Cabeça
Coisas Que Passam Pela Cabeça ao assistir-se ao Homem-de-Ferro 2: porque foi o idiota do Stark sair do conforto do anonimato? Então o russo tem esquemas para um reactor nuclear portátil e vive na miséria? E constroi-se assim reactores na arrecadação? Como é que o tipo aterra num palco àquela velocidade sem lhe fazer uma mínima amolgadela? Ainda por cima afirma-se como grande protector da paz mundial? Por que não leva um tiro na testa quando está sem fato? Não há países capazes de o fazer? Nem os próprios EUA? Ah, Scarlett... Toxicidade a 50% e anda aos pulinhos? E que raio de toxicidade é essa: diferencial de glóbulos brancos, presença de metais, what? E já agora, para que precisa ele de um reactor no esterno? Aquilo não emana calor? Não lhe danifica os pulmões? Um pacemaker não bastava? Ah, Scarlett... É preciso destruir assim aquela bela casinha à beira-mar? O russo consegue entrar em sistemas informáticos empresariais com aquela facilidade? E deixam-no construir robôs sozinho sem passar pela aprovação e acompanhamento das equipas técnicas? Não há mais ninguém que trabalhe naquele edifício? Ninguém que comprove o verdadeiro conhecimento do tipo? E é algum superherói para derrubar sem arranhões os guarda-costas? Ah, Scarlett... Então deixa-se o amigo levar um fato? Ainda por cima apanhando porrada? Sem enviar um exército de advogados que impedissem os militares de lhe porem as mãos em cima? E tudo o que fazem com o fato é juntar-lhe uma metralhadora? Nem tentam desmontá-lo para entender a tecnologia e reproduzi-la? Ah, Scarlett... O pai deixa uma mensagem críptica numa bobina de filme, espantosamente conservada, sem nunca implantar no miudo memórias e indícios do que poderia ser a grande solução? A grande solução, afinal, é sintetizar um novo elemento? Supondo que o novo elemento tem de ser superpesado, ou seja, ter um peso atómico de 120 ou mais (se não é uma partícula conhecida, certo?), hão-de dizer-me como é que se produz sem um acelerador de partículas maior que o do CERN e capaz de sobreviver mais do que alguns microssegundos? Um elemento desses não seria super-radioactivo? Apesar de tudo isso, não teria sido mais fácil para o pai deixar uma mensagem escrita - olha, filho, faz-se assim - do que construir um parque temático inteiro em representação de um átomo super-pesado? Isso não é levar o exibicionismo de novo-rico ao extremo? Ah, Scarlett... E porque é que o Stark nunca dá dinheiro aos pobres ou tenta implementar um sistema de segurança social na América? Não era mais proveitoso do que sentar cientistas de todo o mundo para construir um futuro melhor? As soluções não são já conhecidas, faltando só meios e vontade para as seguir? Ah, Scarlett... E que raio de final é aquele? Os gajos estão rodeados de dezenas de robôs militares, mas uns tirinhos e um raio laser é o que basta para os desfazer em bocados? E o russo, quando chega, não acredita na capacidade protectora do capacete? Não basta fritar a cabecinha dele com o raio de energia para se acabar com a história? E quem é que vai pagar a remodelação do parque temático e os danos na imagem da empresa?
A não aguardar ansiosamente pela terceira parte.
Coisas Que Passam Pela Cabeça ao assistir-se ao Homem-de-Ferro 2: porque foi o idiota do Stark sair do conforto do anonimato? Então o russo tem esquemas para um reactor nuclear portátil e vive na miséria? E constroi-se assim reactores na arrecadação? Como é que o tipo aterra num palco àquela velocidade sem lhe fazer uma mínima amolgadela? Ainda por cima afirma-se como grande protector da paz mundial? Por que não leva um tiro na testa quando está sem fato? Não há países capazes de o fazer? Nem os próprios EUA? Ah, Scarlett... Toxicidade a 50% e anda aos pulinhos? E que raio de toxicidade é essa: diferencial de glóbulos brancos, presença de metais, what? E já agora, para que precisa ele de um reactor no esterno? Aquilo não emana calor? Não lhe danifica os pulmões? Um pacemaker não bastava? Ah, Scarlett... É preciso destruir assim aquela bela casinha à beira-mar? O russo consegue entrar em sistemas informáticos empresariais com aquela facilidade? E deixam-no construir robôs sozinho sem passar pela aprovação e acompanhamento das equipas técnicas? Não há mais ninguém que trabalhe naquele edifício? Ninguém que comprove o verdadeiro conhecimento do tipo? E é algum superherói para derrubar sem arranhões os guarda-costas? Ah, Scarlett... Então deixa-se o amigo levar um fato? Ainda por cima apanhando porrada? Sem enviar um exército de advogados que impedissem os militares de lhe porem as mãos em cima? E tudo o que fazem com o fato é juntar-lhe uma metralhadora? Nem tentam desmontá-lo para entender a tecnologia e reproduzi-la? Ah, Scarlett... O pai deixa uma mensagem críptica numa bobina de filme, espantosamente conservada, sem nunca implantar no miudo memórias e indícios do que poderia ser a grande solução? A grande solução, afinal, é sintetizar um novo elemento? Supondo que o novo elemento tem de ser superpesado, ou seja, ter um peso atómico de 120 ou mais (se não é uma partícula conhecida, certo?), hão-de dizer-me como é que se produz sem um acelerador de partículas maior que o do CERN e capaz de sobreviver mais do que alguns microssegundos? Um elemento desses não seria super-radioactivo? Apesar de tudo isso, não teria sido mais fácil para o pai deixar uma mensagem escrita - olha, filho, faz-se assim - do que construir um parque temático inteiro em representação de um átomo super-pesado? Isso não é levar o exibicionismo de novo-rico ao extremo? Ah, Scarlett... E porque é que o Stark nunca dá dinheiro aos pobres ou tenta implementar um sistema de segurança social na América? Não era mais proveitoso do que sentar cientistas de todo o mundo para construir um futuro melhor? As soluções não são já conhecidas, faltando só meios e vontade para as seguir? Ah, Scarlett... E que raio de final é aquele? Os gajos estão rodeados de dezenas de robôs militares, mas uns tirinhos e um raio laser é o que basta para os desfazer em bocados? E o russo, quando chega, não acredita na capacidade protectora do capacete? Não basta fritar a cabecinha dele com o raio de energia para se acabar com a história? E quem é que vai pagar a remodelação do parque temático e os danos na imagem da empresa?
A não aguardar ansiosamente pela terceira parte.
A Recomendação De Hoje
A Recomendação De Hoje destina-se, não aos leitores mas aos editores, para que se foquem no recente galardoado com o prémio Nébula para melhor romance de 2008: Paolo Bacigalupi.
Como já aqui dissemos, Bacigalupi é uma das grandes revelações da FC dos últimos tempos: detentor de uma prosa directa e eficiente, e de um olhar de lince perante o mundo inventado (leia-se: descrevendo o que interessa e o que serve ao propósito da história, sem excessos nem gorduras), é também imbuído de uma consciência política e social (leia-se: tem opiniões), e procura encontrar narrativas que traduzam esse desconforto perante a realidade e o presente (leia-se: não se limita a introduzir vampiros nem zombies para efeito de choque ou estranhamento em comunidades cujos estilos de vida carecem de verdadeiras provações e dificuldades).
The Windup Girl é a consolidação, em forma de romance, de um mundo e uma mensagem que tem vindo a ser explorado em contos como «The Calorie Man» e «Yellow-Card Man» (online): o que resta da nossa civilização tecno-globalizada após termos consumido a última gota de petróleo e a procura de energia (de «calorias») se torne no objectivo individual de vida, igual ao que a procura de dinheiro representava na era anterior. O mapa político global transformou-se (com o desaparecimento dos Estados Unidos), pelo que o foco do enredo se desloca para o oriente, em particular para a Tailândia, aqui descrita com a pertinência tecnológica que Gibson utilizou para o seu Japão cibernético. Além dos problemas energéticos, o planeta vê-se confrontado com os resultados da engenharia genética utilizada para fins militares e terroristas.
The Windup Girl conseguiria, creio, ser apresentado no nosso mercado enquanto fábula ecológica, dando particular ênfase ao esgotamento do petróleo e à alteração da realidade política. Alguns comentadores da praça poderiam apreciar a natureza do livro, em particular conhecendo a apetência dos mesmos para a FC. Ficção especulativa para gente inteligente.
Bem, fica a proposta.

A Recomendação De Hoje destina-se, não aos leitores mas aos editores, para que se foquem no recente galardoado com o prémio Nébula para melhor romance de 2008: Paolo Bacigalupi.
Como já aqui dissemos, Bacigalupi é uma das grandes revelações da FC dos últimos tempos: detentor de uma prosa directa e eficiente, e de um olhar de lince perante o mundo inventado (leia-se: descrevendo o que interessa e o que serve ao propósito da história, sem excessos nem gorduras), é também imbuído de uma consciência política e social (leia-se: tem opiniões), e procura encontrar narrativas que traduzam esse desconforto perante a realidade e o presente (leia-se: não se limita a introduzir vampiros nem zombies para efeito de choque ou estranhamento em comunidades cujos estilos de vida carecem de verdadeiras provações e dificuldades).
The Windup Girl é a consolidação, em forma de romance, de um mundo e uma mensagem que tem vindo a ser explorado em contos como «The Calorie Man» e «Yellow-Card Man» (online): o que resta da nossa civilização tecno-globalizada após termos consumido a última gota de petróleo e a procura de energia (de «calorias») se torne no objectivo individual de vida, igual ao que a procura de dinheiro representava na era anterior. O mapa político global transformou-se (com o desaparecimento dos Estados Unidos), pelo que o foco do enredo se desloca para o oriente, em particular para a Tailândia, aqui descrita com a pertinência tecnológica que Gibson utilizou para o seu Japão cibernético. Além dos problemas energéticos, o planeta vê-se confrontado com os resultados da engenharia genética utilizada para fins militares e terroristas.
The Windup Girl conseguiria, creio, ser apresentado no nosso mercado enquanto fábula ecológica, dando particular ênfase ao esgotamento do petróleo e à alteração da realidade política. Alguns comentadores da praça poderiam apreciar a natureza do livro, em particular conhecendo a apetência dos mesmos para a FC. Ficção especulativa para gente inteligente.
Bem, fica a proposta.

A Decisão Inesperada
A Decisão Inesperada de prolongar a Feira do Livro por mais uma semana – imagino os impactos nos custos adicionais com pessoal e de sacrifício horário que terá nas editoras, em particular nas pequenas – não compensa as más decisões efectuadas e um desconsolo generalizado com o evento que se instalou este ano. Será sem dúvida factor clima; será desânimo pela economia e pela bela notícia de aumento dos impostos, como se isso resolvesse a nossa fraca competitividade internacional. Por vezes, é preciso simplesmente deixar ir e ansiar por um retorno em melhor forma – sim, e também falo da Nação...
Tem sido um percurso interessante, o nosso, nos últimos dias por um conjunto de obras, vulgo recomendações, que possam ajudar a vossa decisão diária de compras. Principalmente, chamar a atenção para edições antigas que se encontram ainda disponíveis. Não entendo a facilidade com que se descartam obras da memória passados meses ou poucos anos; não aceito que as críticas se centrem apenas em novidades. O mundo não nasceu há cinco minutos. E se se limitam a ler quem poucos anos se vos adianta em idade, garanto-vos que não aprendem nada.
É, contudo, um percurso cansativo e outros afazeres urgem. A promessa de continuar até dia 16 será mantida, mas após essa data ainda haverá que ponderar. Não está de parte uma possível recomendação ou outra. Em particular, por que nos últimos dias pretendia regressar ao presente e oferecer algumas orientações para livros recentes. Nem sempre véu, nem sempre espartilho. Mas sem compromissos, desta feita. Aquilo que empresarialmente se considera numa base de best effort (adoramos a língua inglesa no nosso mundo empresarial; e no nosso científico também, a bem dizer).
A recomendação de hoje recupera uma delícia de 1992, um livrinho curto da autoria de Alan Lightman: Os Sonhos de Einstein. Foi publicado pela Asa numa daquelas colecções de Literatura em formato pequeno. Os Sonhos de Einstein trata de uma especulação inteligente e sensível sobre os sonhos que Einstein teria experimentado enquanto concebia a teoria da relatividade (mais centrados nos efeitos da especial que da geral). Sonhos de mundos e situações alternativas, em que o tempo não se comporta conforme o conhecemos. O efeito aproxima-se bastante de um ensaio sobre experiências com o tempo, mas com a particularidade de cada situação, cada novo mundo, serem apresentados em termos humanos - ou seja, Ficção Científica.
Temos assim, um mundo em que o tempo retrocede, ao invés de avançar; em que avança aos saltos, de forma discreta; em que efeitos não se sucedem necessariamente às causas; em que a mesma povoação coexiste em diferentes eras do passado; em que a dilatação temporal derivada da aproximação à velocidde da luz manifesta-se a velocidades humanas (ou seja, a velocidade da luz é extremamente reduzida), pelo que toda a gente corre para todo o lado, de forma a viver o mais tempo possível. E se a vida eterna for uma realidade, qual será a sua atitude no dia-a-dia: pertence aos Já's, que querem despachar tarefas rapidamente para estarem sempre prontos, ou aos Deixa Para Mais Tarde, por que, afinal, têm todo o tempo do universo para as realizar?
Os capítulos sucedem-se de forma breve, quase em forma de conto de fadas, pequenas alegorias do tempo entrecortadas com instantâneos da história de vida do famoso cientista. Tem o sabor de uma colectânea de fábulas, misto de infância e ciência. Existe, em particular, uma cena na qual um casal de amantes se separa por que o instante de interrupção temporal, mesmo sendo imperceptível, foi o suficiente para causar dúvida e não os deixar arriscar novamente.
É um livro apropriado para a mesa-de-cabeceira e foi sem dúvida uma excelente escolha do editor. Mas é FC pura e dura, com extrapolação científica e um belíssimo ouvido para a prosa. Apenas não se chama FC...
Fica o desejo de que desperte sonhos tão ou mais atraentes que os de Einstein.

A Decisão Inesperada de prolongar a Feira do Livro por mais uma semana – imagino os impactos nos custos adicionais com pessoal e de sacrifício horário que terá nas editoras, em particular nas pequenas – não compensa as más decisões efectuadas e um desconsolo generalizado com o evento que se instalou este ano. Será sem dúvida factor clima; será desânimo pela economia e pela bela notícia de aumento dos impostos, como se isso resolvesse a nossa fraca competitividade internacional. Por vezes, é preciso simplesmente deixar ir e ansiar por um retorno em melhor forma – sim, e também falo da Nação...
Tem sido um percurso interessante, o nosso, nos últimos dias por um conjunto de obras, vulgo recomendações, que possam ajudar a vossa decisão diária de compras. Principalmente, chamar a atenção para edições antigas que se encontram ainda disponíveis. Não entendo a facilidade com que se descartam obras da memória passados meses ou poucos anos; não aceito que as críticas se centrem apenas em novidades. O mundo não nasceu há cinco minutos. E se se limitam a ler quem poucos anos se vos adianta em idade, garanto-vos que não aprendem nada.
É, contudo, um percurso cansativo e outros afazeres urgem. A promessa de continuar até dia 16 será mantida, mas após essa data ainda haverá que ponderar. Não está de parte uma possível recomendação ou outra. Em particular, por que nos últimos dias pretendia regressar ao presente e oferecer algumas orientações para livros recentes. Nem sempre véu, nem sempre espartilho. Mas sem compromissos, desta feita. Aquilo que empresarialmente se considera numa base de best effort (adoramos a língua inglesa no nosso mundo empresarial; e no nosso científico também, a bem dizer).
A recomendação de hoje recupera uma delícia de 1992, um livrinho curto da autoria de Alan Lightman: Os Sonhos de Einstein. Foi publicado pela Asa numa daquelas colecções de Literatura em formato pequeno. Os Sonhos de Einstein trata de uma especulação inteligente e sensível sobre os sonhos que Einstein teria experimentado enquanto concebia a teoria da relatividade (mais centrados nos efeitos da especial que da geral). Sonhos de mundos e situações alternativas, em que o tempo não se comporta conforme o conhecemos. O efeito aproxima-se bastante de um ensaio sobre experiências com o tempo, mas com a particularidade de cada situação, cada novo mundo, serem apresentados em termos humanos - ou seja, Ficção Científica.
Temos assim, um mundo em que o tempo retrocede, ao invés de avançar; em que avança aos saltos, de forma discreta; em que efeitos não se sucedem necessariamente às causas; em que a mesma povoação coexiste em diferentes eras do passado; em que a dilatação temporal derivada da aproximação à velocidde da luz manifesta-se a velocidades humanas (ou seja, a velocidade da luz é extremamente reduzida), pelo que toda a gente corre para todo o lado, de forma a viver o mais tempo possível. E se a vida eterna for uma realidade, qual será a sua atitude no dia-a-dia: pertence aos Já's, que querem despachar tarefas rapidamente para estarem sempre prontos, ou aos Deixa Para Mais Tarde, por que, afinal, têm todo o tempo do universo para as realizar?
Os capítulos sucedem-se de forma breve, quase em forma de conto de fadas, pequenas alegorias do tempo entrecortadas com instantâneos da história de vida do famoso cientista. Tem o sabor de uma colectânea de fábulas, misto de infância e ciência. Existe, em particular, uma cena na qual um casal de amantes se separa por que o instante de interrupção temporal, mesmo sendo imperceptível, foi o suficiente para causar dúvida e não os deixar arriscar novamente.
É um livro apropriado para a mesa-de-cabeceira e foi sem dúvida uma excelente escolha do editor. Mas é FC pura e dura, com extrapolação científica e um belíssimo ouvido para a prosa. Apenas não se chama FC...
Fica o desejo de que desperte sonhos tão ou mais atraentes que os de Einstein.

De Tão Habituado Às Edições
De Tão Habituado Às Edições dispersas pelos anos e pelas casas editoras e que jamais se renovam, é difícil para um empedernido entusiasta português de Ficção Científica aperceber-se da quantidade de obras que se encontram ainda disponíveis para quem tenha chegado recentemente ao género e conheça essencialmente o trabalho da Saída de Emergência e Gailivro. Sem dúvida que no nosso tempo não existia esta oferta, a não ser que se procurassem números antigos das colecções já mencionadas ou que se vasculhasse nos recantos dos alfarrabistas: a Panorama e a DH haviam terminado há tempo suficiente para desaparecerem do radar, e só a vertente brasileira – nomeadamente a editora Hemus, responsável pela tradução em português da Fundação asimoviana antes do trabalho da Livros do Brasil com a Argonauta Gigante – conseguia acrescentar uma oferta paralela.
Hoje, ao percorrer a gélida temperança da Feira, nesta maldita antecipação do evento face ao calendário primaveril (será que os senhores editores responsáveis pela ideia passam o tempo suficiente no Parque Eduardo VII?), ocorreu-me a extensão da oferta para os jovens. Pois, afinal, não só estão disponíveis dezenas de números das principais colecções dos anos 80/90 já citadas (Livros de Bolso FC e Argonauta), como se podem ainda encontrar restos de edições igualmente antigas, como fósseis de uma antiga glória. E entre os ditos fósseis, surge ocasionalmente o antepassado primordial de um novo filo, uma obra de referência que se pensava estar apenas disponível na língua-mãe, mas que, surpresa!, por poucos euros pode saltar para o nosso colo a falar bom lusitano.
É este o caso de Mais Que Humanos, de Theodore Sturgeon, na edição mais recente da Presença, que a editora fez o favor de colocar fora das colecções do Fantástico, juntamente com os clássicos da literatura – uma demonstração apreciada de respeito mas que sem dúvida alienou o público-alvo (na Feira, o pavilhão em que se encontra é inclusive separado). Ou, continuando ainda nesta editora, temos os casos pontuais de Schismatrix – O Mundo Pós-Humano de Bruce Sterling, Samurai: Nome de Código de Neal Stephenson, A Mão Esquerda das Trevas de Ursula Le Guin, A Guerra da Evolução de Neil Asher, e outros grandes títulos, trazidos à luz na colecção Viajantes do Tempo, que, é bom lembrar, prometia novos mundos ao mundo no ano distante de 2003, quando teve início, antes de se render aos livros fáceis destinados aos muito jovens.
Mas não é caso isolado. Avançando na profundidade do tempo, chegamos ao pavilhão da Gradiva, onde um Neuromante insuspeito nos sorri ao canto da lateral que contém os saldos. Eis um exemplo gritante de uma grande obra, uma obra que inspirou gerações de programadores e criadores de mundos virtuais, que esteve na origem de um movimento ciberartístico, culminando – se tal se pode afirmar – no filme Matrix; e em português encontra-se ignorada, atirada para um canto, abandonada para morrer.
Lembro-me bem do instante em que vi a edição nacional pela primeira vez. Era também Feira do Livro, mas de concelho, e acabara de ser publicada. Em capa dura, como era apanágio da colecção Contacto e como só o João Barreiros teria coragem e devoção para arriscar. Subsistindo ainda da mesada, atirei a cautela às favas e trouxe o livro comigo (os livros de capa dura não eram, como não são, baratos). Era impossível não trazê-lo. Era impossivel ignorar aquele prazer da descoberta, como se me fosse revelado um segredo há muito aguardado. Por vezes, conhecer o plano editorial vindouro tira a graça à descoberta. A edição foi uma surpresa completa, e encontrá-la, após tantas referências sobre o romance mas sem dispor da Amazon nem compras no estrangeiro naquela época de pré-História assalariada, foi o equivalente de receber uma prenda inesperada ou presenciar um acto divino. Como vos disse, ainda me lembro desse momento, volvidos 23 anos.
Com tradução razoavelmente competente de Fernando Correia Marques, o romance mergulha-nos na história de Case e Molly, o par de improváveis mercenários do mundo virtual e das correntes de dados, contratados para descobrir segredos empresariais escondidos nos centros de informação das grandes corporações. Deles é um mundo adjacente ao nosso mas apenas visível para quem dispuser da interface correcta. Quem se prestar a ceder partes da carne e da alma, partes de si mesmo, para convergir num novo ser, uno com as máquinas.
A narrativa decorre num Japão ultra-modernizado e na costa leste dos Estados Unidos. A missão para a qual Case se deixa seduzir – e cujo prémio consiste na recuperação da interface do seu sistema nervoso central, destruido no decurso de um trabalho anterior que deu para o torto – consiste inicialmente na descoberta da natureza de uma poderosa inteligência artificial (I.A.) de nome Wintermute, mas em breve se revela mais complexa e ilegal do que isso. Wintermute foi criada e é mantida por uma família de elite, quase à margem da lei, que impede a existência de I.A.s demasiado complexas, e que foi programada com um desejo irreconciliável de se fundir com o gémeo Neuromante e tornar-se numa magnum I.A. como nunca visto. Case e Molly, se quiserem libertar-se das dependências da vida nas ruas e tornar-se cidadãos com um futuro íntegro, terão de ajudar Wintermute a alcançar o objectivo. Ou – como não podia deixar de ser – morrer a tentar...
O enredo não é efectivamente o ponto forte do livro, nem o motivo da sua originalidade. Apesar da acção, do perigo eminente e das reviravoltas surpreendentes, não há uma sensação de revelação contínua e ansiosa que nos prenda – ou pelo menos, não foi essa a minha experiência. O livro é excelente pelo seu estilo.
Gibson, já o afirmei noutros sítios, devia ter escrito algures na sua carreira um romance mainstream. Talvez o tenha feito com Spook Country, muito à sua maneira, pois é um livro sobre o «presente acabado de acontecer». Precisava de ter feito poemas, muitos, além do seu «Agrippa» e da evocação dos mortos. Gibson é dotado de um estilo certeiro, de uma capacidade inata, ou talvez simplesmente trabalhada, de escolher com precisão laser e evocação poética, a correcta imagem para a situação. Sem dúvida uma das aberturas mais famosas de sempre, «O céu sobre o porto tinha a cor de uma televisão sintonizada num canal sem emissão» coloca-nos de imediato no ambiente e na proposta literária de Neuromante: a de uma ecologia tecnológica, criada por nós, mas cujo controlo renegámos há muito. Um mundo no qual as máquinas pensam e sentem e encontram-se ligadas de uma forma quase mística. É assombrosa a cena na qual Case recebe, na zona de cabinas de um espaço público, uma chamada directa de Wintermute e, querendo fugir do mesmo, passa a correr pelas restantes cabinas telefónicas; estas, à medida que passa, vão tocando à vez, acompanhando-o. É tão simples, a cena, mas tão eficaz, na medida em que antecipa e descreve de forma sumária o terror da vigilância electrónica, ainda mero conceito naquela data.
Esta capacidade de síntese só se alcança quando se escreveu a história vezes sem fim, e se reescreveu, e escreveu ainda mais uma vez. Só quando a história é uma parte da memória do autor é que ele tem finalmente capacidade para a contar, centrando-se no que interessa e colocando de lado as frases inúteis, paradas e desinteressantes.
Eis a minha recomendação de hoje – a de um clássico indispensável já difícil de encontrar. Não a edição original em capa dura, mas um lançamento efectuado pela Gradiva algures em finais dos anos 90, em formato trade paperback, embora o conteúdo se tenha mantido inalterado.
Gostaria de incluir nas recomendações a colecção da Caminho. Infelizmente, os livros de capa azul foram convertidos em pasta de papel - espero eu que, ao menos, os exemplares que sobravam das minhas obras tenham sido sacrificados para algo mais nobre que as compilação dos textos completos do Pedro Paixão, e outros que tais -, e não há indícios de que, nesta era em que finalmente os ombros do Fantástico sustentam tantas vendas e pagam tantos salários, a Caminho (mesmo incorporada na Leya, imagino que retenha algum grau de decisão sobre a sua estratégia empresarial), detentora de um catálogo europeu de títulos e autores de tal forma ímpar que recebeu louvores da associação britânica de FC, pretenda aproveitar a maré e lançar reedições da prata da casa.
Obras feitas e traduzidas, que seriam facilmente recuperadas, pagos os direitos novamente e lançadas no mercado. Além do facto de esta dita casa incluir autores portugueses e obras igualmente prontas a re-imprimir, de provas dadas e com historial de vendas, nem sequer precisando de dispender o esforço de pedir ao mercado textos inéditos e avaliá-los. Mesmo sendo reedições, é pouco provável que os leitores modernos tenham tido acesso ou conheçam sequer o material lançado em inícios de 90, pelo que funcionariam, para todos os efeitos, como obras (quase) jovens.
(Suspiro...)

De Tão Habituado Às Edições dispersas pelos anos e pelas casas editoras e que jamais se renovam, é difícil para um empedernido entusiasta português de Ficção Científica aperceber-se da quantidade de obras que se encontram ainda disponíveis para quem tenha chegado recentemente ao género e conheça essencialmente o trabalho da Saída de Emergência e Gailivro. Sem dúvida que no nosso tempo não existia esta oferta, a não ser que se procurassem números antigos das colecções já mencionadas ou que se vasculhasse nos recantos dos alfarrabistas: a Panorama e a DH haviam terminado há tempo suficiente para desaparecerem do radar, e só a vertente brasileira – nomeadamente a editora Hemus, responsável pela tradução em português da Fundação asimoviana antes do trabalho da Livros do Brasil com a Argonauta Gigante – conseguia acrescentar uma oferta paralela.
Hoje, ao percorrer a gélida temperança da Feira, nesta maldita antecipação do evento face ao calendário primaveril (será que os senhores editores responsáveis pela ideia passam o tempo suficiente no Parque Eduardo VII?), ocorreu-me a extensão da oferta para os jovens. Pois, afinal, não só estão disponíveis dezenas de números das principais colecções dos anos 80/90 já citadas (Livros de Bolso FC e Argonauta), como se podem ainda encontrar restos de edições igualmente antigas, como fósseis de uma antiga glória. E entre os ditos fósseis, surge ocasionalmente o antepassado primordial de um novo filo, uma obra de referência que se pensava estar apenas disponível na língua-mãe, mas que, surpresa!, por poucos euros pode saltar para o nosso colo a falar bom lusitano.
É este o caso de Mais Que Humanos, de Theodore Sturgeon, na edição mais recente da Presença, que a editora fez o favor de colocar fora das colecções do Fantástico, juntamente com os clássicos da literatura – uma demonstração apreciada de respeito mas que sem dúvida alienou o público-alvo (na Feira, o pavilhão em que se encontra é inclusive separado). Ou, continuando ainda nesta editora, temos os casos pontuais de Schismatrix – O Mundo Pós-Humano de Bruce Sterling, Samurai: Nome de Código de Neal Stephenson, A Mão Esquerda das Trevas de Ursula Le Guin, A Guerra da Evolução de Neil Asher, e outros grandes títulos, trazidos à luz na colecção Viajantes do Tempo, que, é bom lembrar, prometia novos mundos ao mundo no ano distante de 2003, quando teve início, antes de se render aos livros fáceis destinados aos muito jovens.
Mas não é caso isolado. Avançando na profundidade do tempo, chegamos ao pavilhão da Gradiva, onde um Neuromante insuspeito nos sorri ao canto da lateral que contém os saldos. Eis um exemplo gritante de uma grande obra, uma obra que inspirou gerações de programadores e criadores de mundos virtuais, que esteve na origem de um movimento ciberartístico, culminando – se tal se pode afirmar – no filme Matrix; e em português encontra-se ignorada, atirada para um canto, abandonada para morrer.
Lembro-me bem do instante em que vi a edição nacional pela primeira vez. Era também Feira do Livro, mas de concelho, e acabara de ser publicada. Em capa dura, como era apanágio da colecção Contacto e como só o João Barreiros teria coragem e devoção para arriscar. Subsistindo ainda da mesada, atirei a cautela às favas e trouxe o livro comigo (os livros de capa dura não eram, como não são, baratos). Era impossível não trazê-lo. Era impossivel ignorar aquele prazer da descoberta, como se me fosse revelado um segredo há muito aguardado. Por vezes, conhecer o plano editorial vindouro tira a graça à descoberta. A edição foi uma surpresa completa, e encontrá-la, após tantas referências sobre o romance mas sem dispor da Amazon nem compras no estrangeiro naquela época de pré-História assalariada, foi o equivalente de receber uma prenda inesperada ou presenciar um acto divino. Como vos disse, ainda me lembro desse momento, volvidos 23 anos.
Com tradução razoavelmente competente de Fernando Correia Marques, o romance mergulha-nos na história de Case e Molly, o par de improváveis mercenários do mundo virtual e das correntes de dados, contratados para descobrir segredos empresariais escondidos nos centros de informação das grandes corporações. Deles é um mundo adjacente ao nosso mas apenas visível para quem dispuser da interface correcta. Quem se prestar a ceder partes da carne e da alma, partes de si mesmo, para convergir num novo ser, uno com as máquinas.
A narrativa decorre num Japão ultra-modernizado e na costa leste dos Estados Unidos. A missão para a qual Case se deixa seduzir – e cujo prémio consiste na recuperação da interface do seu sistema nervoso central, destruido no decurso de um trabalho anterior que deu para o torto – consiste inicialmente na descoberta da natureza de uma poderosa inteligência artificial (I.A.) de nome Wintermute, mas em breve se revela mais complexa e ilegal do que isso. Wintermute foi criada e é mantida por uma família de elite, quase à margem da lei, que impede a existência de I.A.s demasiado complexas, e que foi programada com um desejo irreconciliável de se fundir com o gémeo Neuromante e tornar-se numa magnum I.A. como nunca visto. Case e Molly, se quiserem libertar-se das dependências da vida nas ruas e tornar-se cidadãos com um futuro íntegro, terão de ajudar Wintermute a alcançar o objectivo. Ou – como não podia deixar de ser – morrer a tentar...
O enredo não é efectivamente o ponto forte do livro, nem o motivo da sua originalidade. Apesar da acção, do perigo eminente e das reviravoltas surpreendentes, não há uma sensação de revelação contínua e ansiosa que nos prenda – ou pelo menos, não foi essa a minha experiência. O livro é excelente pelo seu estilo.
Gibson, já o afirmei noutros sítios, devia ter escrito algures na sua carreira um romance mainstream. Talvez o tenha feito com Spook Country, muito à sua maneira, pois é um livro sobre o «presente acabado de acontecer». Precisava de ter feito poemas, muitos, além do seu «Agrippa» e da evocação dos mortos. Gibson é dotado de um estilo certeiro, de uma capacidade inata, ou talvez simplesmente trabalhada, de escolher com precisão laser e evocação poética, a correcta imagem para a situação. Sem dúvida uma das aberturas mais famosas de sempre, «O céu sobre o porto tinha a cor de uma televisão sintonizada num canal sem emissão» coloca-nos de imediato no ambiente e na proposta literária de Neuromante: a de uma ecologia tecnológica, criada por nós, mas cujo controlo renegámos há muito. Um mundo no qual as máquinas pensam e sentem e encontram-se ligadas de uma forma quase mística. É assombrosa a cena na qual Case recebe, na zona de cabinas de um espaço público, uma chamada directa de Wintermute e, querendo fugir do mesmo, passa a correr pelas restantes cabinas telefónicas; estas, à medida que passa, vão tocando à vez, acompanhando-o. É tão simples, a cena, mas tão eficaz, na medida em que antecipa e descreve de forma sumária o terror da vigilância electrónica, ainda mero conceito naquela data.
Esta capacidade de síntese só se alcança quando se escreveu a história vezes sem fim, e se reescreveu, e escreveu ainda mais uma vez. Só quando a história é uma parte da memória do autor é que ele tem finalmente capacidade para a contar, centrando-se no que interessa e colocando de lado as frases inúteis, paradas e desinteressantes.
Eis a minha recomendação de hoje – a de um clássico indispensável já difícil de encontrar. Não a edição original em capa dura, mas um lançamento efectuado pela Gradiva algures em finais dos anos 90, em formato trade paperback, embora o conteúdo se tenha mantido inalterado.
Gostaria de incluir nas recomendações a colecção da Caminho. Infelizmente, os livros de capa azul foram convertidos em pasta de papel - espero eu que, ao menos, os exemplares que sobravam das minhas obras tenham sido sacrificados para algo mais nobre que as compilação dos textos completos do Pedro Paixão, e outros que tais -, e não há indícios de que, nesta era em que finalmente os ombros do Fantástico sustentam tantas vendas e pagam tantos salários, a Caminho (mesmo incorporada na Leya, imagino que retenha algum grau de decisão sobre a sua estratégia empresarial), detentora de um catálogo europeu de títulos e autores de tal forma ímpar que recebeu louvores da associação britânica de FC, pretenda aproveitar a maré e lançar reedições da prata da casa.
Obras feitas e traduzidas, que seriam facilmente recuperadas, pagos os direitos novamente e lançadas no mercado. Além do facto de esta dita casa incluir autores portugueses e obras igualmente prontas a re-imprimir, de provas dadas e com historial de vendas, nem sequer precisando de dispender o esforço de pedir ao mercado textos inéditos e avaliá-los. Mesmo sendo reedições, é pouco provável que os leitores modernos tenham tido acesso ou conheçam sequer o material lançado em inícios de 90, pelo que funcionariam, para todos os efeitos, como obras (quase) jovens.
(Suspiro...)

É Espantosa A Marca
É Espantosa A Marca que o tempo nos deixa. Tenho recordações mais vívidas e presentes dos primeiros dez anos de leituras de Ficção Científica que dos vinte e tais que se lhes seguiram. Posso, quase sem necessidade de folhear os livros, descrever-vos com pequena margem de erro as primeiras dezenas de títulos da Livros de Bolso FC da Europa-América.
Entendo perfeitamente que, quem tivesse crescido com a Argonauta, encarasse a Bolso FC como uma jovenzinha ainda com provas para dar; afinal, a Argonauta existia desde 1957, enquanto que a última iniciara-se, agora mesmo, com a década de 80 e ainda por cima recorrendo no número inaugural à novelização do primeiro episódio da Galáctica (da série original). Contudo, foi a Bolso FC que me apresentou o universo glorioso e infinito da Ficção Científica, qual epifania religiosa, e por isso é esta que acabo por colocar em primeiro plano. Não me admira que sejam diferentes as lealdades de quem cresceu com as colecções Via Láctea e Viajantes do Tempo da Presença; mesmo quem acompanhe mais a Bang! distinguir-se-á de quem prefira a 1001 Mundos, tendo sido marcado por temas e autores, embora próximos, com suficientes graus de separação. Sem dúvida que os editores actuais são mais participativos – fruto dos tempos. Os editores da Europa-América e da Livros do Brasil existiam atrás das fortalezas, e não tínhamos acesso às suas opiniões e preferências, a não ser quando explicavam as escolhas num texto introdutório ao livro do mês.
É natural supor que seria difícil escolher a obra a recomendar, a partir do leque de títulos que a editora foi mantendo disponíveis e reeditados, até finalmente perceber que o filão esgotara. A colecção surge ainda nas Feiras do Livro, não tão coleccionável quanto a Argonauta, mas repleta de bons e antigos exemplos de como se podia manter qualidade e baixo preço e formato de bolso num só pacote (e sim, estou perfeitamente ciente de que me refiro à empresa que anos mais tarde se tornaria sinónimo de displicência editorial). Mas, das centenas de números, há um livro que sobressai sem dificuldades.
Os Despojados – Uma Utopia Ambígua, de Ursula Le Guin, merece um destaque maior e melhor do que o espaço limitado desta recomendação. Dizer que o considero como o melhor romance de FC que conheço acaba por ser redutor, além de ser também um convite ao debate. Dizer que se trata de leitura obrigatória para qualquer aspirante a escritor, é ser minimalista. Coibi-me propositadamente do exagero «o melhor romance de FC de sempre», por que, obviamente, não li todos os romances que existem, nem nunca serei humanamente capaz de o fazer. Mas terá seguramente o meu voto para, no final dos tempos, acabar no pódio, entre os três primeiros.
Muito da afirmação acima reflecte o meu ideal de FC, e muito deste ideal deve-se precisamente a este livro. Tal como a obra, definir a FC torna-se num processo circular, taoista, que encontra na experiência passada o alimento para a era seguinte. De certa forma auto-fágico, mas em grande medida uma procura da excelência que só consegue ser obtida a partir do apuramento da raça, imune a contaminações externas.
Mas em que consiste então o melhor romance de FC que conheço?
Conta a história de Shevek, físico teórico de uma lua anarquista chamada Anarres. A lua foi colonizada há século e meio por uma comunidade de dissidentes políticos mundiais que negociaram com os governos comunistas e capitalistas do planeta-mãe (Urras) a expatriação para os territórios desérticos – mas habitáveis – do satélite em troca de, basicamente, os deixarem governar em paz. Ajudou para esse processo que Anarres fosse um lugar de sobrevivência difícil, com parcos recursos, obrigando a colónia a instituir processos de rotação de voluntariado para tarefas manuais exigentes, de forma a que o trabalho mais pesado fosse cumprido.
Não tendo o luxo de tecnologia sofisticada, Anarres é apresentado como um lugar de trabalho manual intensivo, empenhado no dever, reservando pouco espaço para o prazer do espírito e para a sofisticação intelectual. Ao mesmo tempo, é-nos dito, funciona como um organismo permanentemente exercitado, sem excessos nem gorduras nem distracções, eficiente, focado e saudável. Livre. Livre para se sentir pleno e recompensado.
Que futuro terá então um físico teórico no meio desta comunidade? A autora apresenta-nos com uma maestria excepcional a dicotomia entre trabalhador e pensador; entre mero homem representante do povo e cultura em que nasceu, e génio destinado a descobrir as leis íntimas do universo. Um equilíbrio difícil que, no final, é humano e imperfeito, e varia consoante a vontade e motivação pessoais, bem como a capacidade de aceitação do seu povo – capacidade que, ele acaba por perceber, é reduzida.
O génio precisa de outros génios com quem trocar ideias. As ideias, afirma Le Guin, são como a relva, precisam da chuva e do sol, crescem melhor quando são pisadas. Mas para encontrar esses génios, precisa de sair de Anarres. Precisa de fazer o caminho inverso do seu povo, regressar à terra da luxúria, ao pecado original. Não obstante trocas comerciais necessárias mantidas pelo sindicato, Anarres vive de costas voltadas para Urras, apelidando-o de nomes feios, nomes políticos. Se Shevek encetar a viagem, será o primeiro embaixador de Anarres em muitas décadas. E, por que estamos neste tipo de romances, Shevek viaja.
O livro mostra-se desde o início como uma história circular, alternando os capítulos da passagem por Urras com a história de vida de Shevek em Anarres até tomar essa decisão. As partes, assim misturadas, formam um todo harmonioso que não seria tão eficaz se a separação fosse linear. Além disso, contribuem para sustentar uma variante literária da parábola de Zenão, que surge a meio do livro: qualquer que seja a meta, faltará sempre metade do caminho para a atingir – metade da distância que agora a separa, e chegado a esse ponto intermédio, metade da distância entre essa metade e o final. Nunca se atinge o objectivo, afirma o paradoxo, porque faltará sempre metade da distância a percorrer, ainda que infinitesimal. Esta parábola é uma tradução das séries convergentes, um instrumento matemático que representa a infinidade. Tradução também de fenómenos físicos como a relatividade – jamais conseguiremos atingir a velocidade da luz, por que o esforço energético para adicionarmos pequenos incrementos de velocidade à nossa nave torna-se exponencial quando nos aproximamos desse limite imposto pelo universo; cair para um buraco negro resulta num fenómeno semelhante, pois o tempo estende-se até ao infinito, prolonga-se em direcção à eternidade, abrandando mas sem nunca parar, tornando a queda numa condenação eterna.
Que um livro consiga este casamento tão perfeito entre ciência, estrutura narrativa, tema e abordagem literária é sublime. É deslumbrante observar como, frase a frase, minuciosamente e sem dispender palavras desnecessárias, Le Guin consegue, em simultâneo, apresentar uma sociedade política anarquista baseada nos modelos de Kropotkin; ser adulta o suficiente para não se deixar enganar pelas suas preferências e abordar com clareza os problemas inerentes a essa pseudo-utopia (daí o título «utopia ambígua»); fazer reflectir a dualidade social na personalidade do protagonista e na sua necessidade entre perseguir um sonho ou ser um homem integrado na terra e no povo em que nasceu; explicar a sua postura em termos práticos, fugindo da solução fácil de ostentá-lo como profeta ou demagogo, mas sustentando-o firmemente na base da ciência, levando-o para Urras não como um homem de ideais mas de ideias – ideias práticas, matemáticas, demonstráveis, mais fortes que qualquer vontade ou interpretação humana; explicar a ciência, e efectivamente convertê-la, em filosofia pessoal, numa clara homenagem à interpretação do universo que a Relatividade e a Mecânica Quântica nos trouxeram; e no final, confrontar dois sistemas políticos distintos, com conjuntos de valores constrastantes, para um final necessário e lógico, circular na sua essência, ainda que possivelmente, e em certa medida, forçado.
A frase final «As mãos estavam vazias, como sempre» explicam Anarres com uma magistral economia de palavras, dando continuidade circular à frase de abertura «Havia um muro». Tudo, tudo, tudo neste romance está pensado, trabalhado, polido, encaixado. Tudo nele faz sentido. Tudo nele brilha e fica na memória.
E como se não bastasse, é uma obra com uma qualidade de prosa invulgar na FC norte-americana, e digamos mesmo, na ficção moderna de língua inglesa.
Os Despojados foi publicado em duas partes - números 46 e 47 -, na Bolso FC da Europa-América, com capas de Rui Ligeiro, e uma tradução notória de Maria Freire da Cruz, que faz juz à qualidade da obra e em alguns momentos a verte de forma impecável para a nossa língua, respeitando a intenção da autora sobre a economia e a beleza das frases. Um dos melhores momentos de sempre (aqui já o afirmo com segurança) da edição de FC em língua portuguesa. E que hoje é vendido, nas barracas da Feira do Livro, por um valor irrisório...
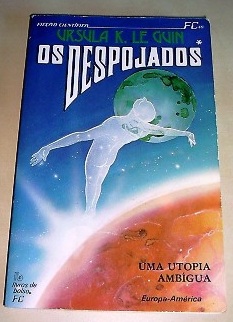
É Espantosa A Marca que o tempo nos deixa. Tenho recordações mais vívidas e presentes dos primeiros dez anos de leituras de Ficção Científica que dos vinte e tais que se lhes seguiram. Posso, quase sem necessidade de folhear os livros, descrever-vos com pequena margem de erro as primeiras dezenas de títulos da Livros de Bolso FC da Europa-América.
Entendo perfeitamente que, quem tivesse crescido com a Argonauta, encarasse a Bolso FC como uma jovenzinha ainda com provas para dar; afinal, a Argonauta existia desde 1957, enquanto que a última iniciara-se, agora mesmo, com a década de 80 e ainda por cima recorrendo no número inaugural à novelização do primeiro episódio da Galáctica (da série original). Contudo, foi a Bolso FC que me apresentou o universo glorioso e infinito da Ficção Científica, qual epifania religiosa, e por isso é esta que acabo por colocar em primeiro plano. Não me admira que sejam diferentes as lealdades de quem cresceu com as colecções Via Láctea e Viajantes do Tempo da Presença; mesmo quem acompanhe mais a Bang! distinguir-se-á de quem prefira a 1001 Mundos, tendo sido marcado por temas e autores, embora próximos, com suficientes graus de separação. Sem dúvida que os editores actuais são mais participativos – fruto dos tempos. Os editores da Europa-América e da Livros do Brasil existiam atrás das fortalezas, e não tínhamos acesso às suas opiniões e preferências, a não ser quando explicavam as escolhas num texto introdutório ao livro do mês.
É natural supor que seria difícil escolher a obra a recomendar, a partir do leque de títulos que a editora foi mantendo disponíveis e reeditados, até finalmente perceber que o filão esgotara. A colecção surge ainda nas Feiras do Livro, não tão coleccionável quanto a Argonauta, mas repleta de bons e antigos exemplos de como se podia manter qualidade e baixo preço e formato de bolso num só pacote (e sim, estou perfeitamente ciente de que me refiro à empresa que anos mais tarde se tornaria sinónimo de displicência editorial). Mas, das centenas de números, há um livro que sobressai sem dificuldades.
Os Despojados – Uma Utopia Ambígua, de Ursula Le Guin, merece um destaque maior e melhor do que o espaço limitado desta recomendação. Dizer que o considero como o melhor romance de FC que conheço acaba por ser redutor, além de ser também um convite ao debate. Dizer que se trata de leitura obrigatória para qualquer aspirante a escritor, é ser minimalista. Coibi-me propositadamente do exagero «o melhor romance de FC de sempre», por que, obviamente, não li todos os romances que existem, nem nunca serei humanamente capaz de o fazer. Mas terá seguramente o meu voto para, no final dos tempos, acabar no pódio, entre os três primeiros.
Muito da afirmação acima reflecte o meu ideal de FC, e muito deste ideal deve-se precisamente a este livro. Tal como a obra, definir a FC torna-se num processo circular, taoista, que encontra na experiência passada o alimento para a era seguinte. De certa forma auto-fágico, mas em grande medida uma procura da excelência que só consegue ser obtida a partir do apuramento da raça, imune a contaminações externas.
Mas em que consiste então o melhor romance de FC que conheço?
Conta a história de Shevek, físico teórico de uma lua anarquista chamada Anarres. A lua foi colonizada há século e meio por uma comunidade de dissidentes políticos mundiais que negociaram com os governos comunistas e capitalistas do planeta-mãe (Urras) a expatriação para os territórios desérticos – mas habitáveis – do satélite em troca de, basicamente, os deixarem governar em paz. Ajudou para esse processo que Anarres fosse um lugar de sobrevivência difícil, com parcos recursos, obrigando a colónia a instituir processos de rotação de voluntariado para tarefas manuais exigentes, de forma a que o trabalho mais pesado fosse cumprido.
Não tendo o luxo de tecnologia sofisticada, Anarres é apresentado como um lugar de trabalho manual intensivo, empenhado no dever, reservando pouco espaço para o prazer do espírito e para a sofisticação intelectual. Ao mesmo tempo, é-nos dito, funciona como um organismo permanentemente exercitado, sem excessos nem gorduras nem distracções, eficiente, focado e saudável. Livre. Livre para se sentir pleno e recompensado.
Que futuro terá então um físico teórico no meio desta comunidade? A autora apresenta-nos com uma maestria excepcional a dicotomia entre trabalhador e pensador; entre mero homem representante do povo e cultura em que nasceu, e génio destinado a descobrir as leis íntimas do universo. Um equilíbrio difícil que, no final, é humano e imperfeito, e varia consoante a vontade e motivação pessoais, bem como a capacidade de aceitação do seu povo – capacidade que, ele acaba por perceber, é reduzida.
O génio precisa de outros génios com quem trocar ideias. As ideias, afirma Le Guin, são como a relva, precisam da chuva e do sol, crescem melhor quando são pisadas. Mas para encontrar esses génios, precisa de sair de Anarres. Precisa de fazer o caminho inverso do seu povo, regressar à terra da luxúria, ao pecado original. Não obstante trocas comerciais necessárias mantidas pelo sindicato, Anarres vive de costas voltadas para Urras, apelidando-o de nomes feios, nomes políticos. Se Shevek encetar a viagem, será o primeiro embaixador de Anarres em muitas décadas. E, por que estamos neste tipo de romances, Shevek viaja.
O livro mostra-se desde o início como uma história circular, alternando os capítulos da passagem por Urras com a história de vida de Shevek em Anarres até tomar essa decisão. As partes, assim misturadas, formam um todo harmonioso que não seria tão eficaz se a separação fosse linear. Além disso, contribuem para sustentar uma variante literária da parábola de Zenão, que surge a meio do livro: qualquer que seja a meta, faltará sempre metade do caminho para a atingir – metade da distância que agora a separa, e chegado a esse ponto intermédio, metade da distância entre essa metade e o final. Nunca se atinge o objectivo, afirma o paradoxo, porque faltará sempre metade da distância a percorrer, ainda que infinitesimal. Esta parábola é uma tradução das séries convergentes, um instrumento matemático que representa a infinidade. Tradução também de fenómenos físicos como a relatividade – jamais conseguiremos atingir a velocidade da luz, por que o esforço energético para adicionarmos pequenos incrementos de velocidade à nossa nave torna-se exponencial quando nos aproximamos desse limite imposto pelo universo; cair para um buraco negro resulta num fenómeno semelhante, pois o tempo estende-se até ao infinito, prolonga-se em direcção à eternidade, abrandando mas sem nunca parar, tornando a queda numa condenação eterna.
Que um livro consiga este casamento tão perfeito entre ciência, estrutura narrativa, tema e abordagem literária é sublime. É deslumbrante observar como, frase a frase, minuciosamente e sem dispender palavras desnecessárias, Le Guin consegue, em simultâneo, apresentar uma sociedade política anarquista baseada nos modelos de Kropotkin; ser adulta o suficiente para não se deixar enganar pelas suas preferências e abordar com clareza os problemas inerentes a essa pseudo-utopia (daí o título «utopia ambígua»); fazer reflectir a dualidade social na personalidade do protagonista e na sua necessidade entre perseguir um sonho ou ser um homem integrado na terra e no povo em que nasceu; explicar a sua postura em termos práticos, fugindo da solução fácil de ostentá-lo como profeta ou demagogo, mas sustentando-o firmemente na base da ciência, levando-o para Urras não como um homem de ideais mas de ideias – ideias práticas, matemáticas, demonstráveis, mais fortes que qualquer vontade ou interpretação humana; explicar a ciência, e efectivamente convertê-la, em filosofia pessoal, numa clara homenagem à interpretação do universo que a Relatividade e a Mecânica Quântica nos trouxeram; e no final, confrontar dois sistemas políticos distintos, com conjuntos de valores constrastantes, para um final necessário e lógico, circular na sua essência, ainda que possivelmente, e em certa medida, forçado.
A frase final «As mãos estavam vazias, como sempre» explicam Anarres com uma magistral economia de palavras, dando continuidade circular à frase de abertura «Havia um muro». Tudo, tudo, tudo neste romance está pensado, trabalhado, polido, encaixado. Tudo nele faz sentido. Tudo nele brilha e fica na memória.
E como se não bastasse, é uma obra com uma qualidade de prosa invulgar na FC norte-americana, e digamos mesmo, na ficção moderna de língua inglesa.
Os Despojados foi publicado em duas partes - números 46 e 47 -, na Bolso FC da Europa-América, com capas de Rui Ligeiro, e uma tradução notória de Maria Freire da Cruz, que faz juz à qualidade da obra e em alguns momentos a verte de forma impecável para a nossa língua, respeitando a intenção da autora sobre a economia e a beleza das frases. Um dos melhores momentos de sempre (aqui já o afirmo com segurança) da edição de FC em língua portuguesa. E que hoje é vendido, nas barracas da Feira do Livro, por um valor irrisório...
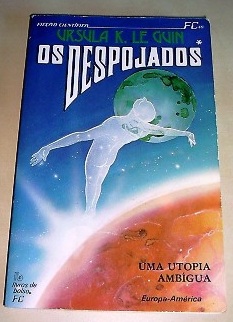
Esta Pretendia Ser
Esta Pretendia Ser uma recomendação diferente, mas a realidade, como sempre, enrola-nos e lança-nos para o lado. A imprensa divulgou ontem o falecimento de Frank Frazetta, que o João evoca especialmente no seu blogue. Desenhador de BD e ilustrador de inúmeras capas de Ficção Científica e Fantasia, com particular destaque para o trabalho que acompanharia as reedições de Tarzan e Barsoom, Frazetta tornou-se num sinónimo da imagem fantástica, repleto de heróis musculados, heroínas voluptuosas e monstros disformes no auge da batalha. De Frazetta, e que eu conheça, não existe nenhum álbum publicado em Portugal, o que espero seja corrigido brevemente. A minha recomendação segue assim o espírito e não o autor.
Fantasy Art Now é uma recente edição da Editorial Estampa organizada por Martin McKenna. Recolhe trabalhos modernos de ilustração de vários autores internacionais, que podem ter adornado capas de edições portuguesas. A organização é por temas, e as imagens surgem de forma ampla, com suficiente detalhe e destaque para uma apreciação demorada. Não dispondo neste momento do livro (trata-se de uma recomendação também para o crítico), não vos posso confirmar a lista de artistas que inclui (suponho que nenhum exemplo pela mão de Frazetta, se não surgiria destacado, seguramente, nas críticas estrangeiras) - e como não podia deixar de ser, a editora portuguesa é completamente omissa e negligente na promoção que dele faz, pelo que tenho de confiar nos sítios Web estrangeiros. Mas a edição é cuidada, os desenhos cativantes, e a Feira do Livro é uma excelente oportunidade para adquiri-lo com desconto. Em particular pelo incentivo que estarão a prestar à tradução e publicação nacional de livros sobre arte Fantástica; trata-se, afinal, de uma aposta arriscada e de um exemplo singular no nosso mercado.
Também entre nós existe uma (pequena) história de ilustrações originais para livros relacionados com o género, com particular destaque para o trabalho de Lima de Freitas na colecção Argonauta e Rui Ligeiro na Europa-América. Espero um dia poder ver uma colectânea comemorativa desses tempos esquecidos.

Esta Pretendia Ser uma recomendação diferente, mas a realidade, como sempre, enrola-nos e lança-nos para o lado. A imprensa divulgou ontem o falecimento de Frank Frazetta, que o João evoca especialmente no seu blogue. Desenhador de BD e ilustrador de inúmeras capas de Ficção Científica e Fantasia, com particular destaque para o trabalho que acompanharia as reedições de Tarzan e Barsoom, Frazetta tornou-se num sinónimo da imagem fantástica, repleto de heróis musculados, heroínas voluptuosas e monstros disformes no auge da batalha. De Frazetta, e que eu conheça, não existe nenhum álbum publicado em Portugal, o que espero seja corrigido brevemente. A minha recomendação segue assim o espírito e não o autor.
Fantasy Art Now é uma recente edição da Editorial Estampa organizada por Martin McKenna. Recolhe trabalhos modernos de ilustração de vários autores internacionais, que podem ter adornado capas de edições portuguesas. A organização é por temas, e as imagens surgem de forma ampla, com suficiente detalhe e destaque para uma apreciação demorada. Não dispondo neste momento do livro (trata-se de uma recomendação também para o crítico), não vos posso confirmar a lista de artistas que inclui (suponho que nenhum exemplo pela mão de Frazetta, se não surgiria destacado, seguramente, nas críticas estrangeiras) - e como não podia deixar de ser, a editora portuguesa é completamente omissa e negligente na promoção que dele faz, pelo que tenho de confiar nos sítios Web estrangeiros. Mas a edição é cuidada, os desenhos cativantes, e a Feira do Livro é uma excelente oportunidade para adquiri-lo com desconto. Em particular pelo incentivo que estarão a prestar à tradução e publicação nacional de livros sobre arte Fantástica; trata-se, afinal, de uma aposta arriscada e de um exemplo singular no nosso mercado.
Também entre nós existe uma (pequena) história de ilustrações originais para livros relacionados com o género, com particular destaque para o trabalho de Lima de Freitas na colecção Argonauta e Rui Ligeiro na Europa-América. Espero um dia poder ver uma colectânea comemorativa desses tempos esquecidos.

Há Por Vezes Desabafos
Há Por Vezes Desabafos que são mais fortes do que nós e que não se conseguem evitar. Este foi um deles. Com imenso cavalheirismo, o Daniel Borba descobriu e aceitou o desafio. Resultou nesta apreciação. Poderia ter tido um resultado diferente e seria igualmente apreciado. Deixo o meu agradecimento ao Daniel, que me ajudou a comprovar que a subtileza funciona e inclusive se torna num prazer maior quando relida. O conto, como sabem, continua aqui. Qual é a vossa opinião?
Há Por Vezes Desabafos que são mais fortes do que nós e que não se conseguem evitar. Este foi um deles. Com imenso cavalheirismo, o Daniel Borba descobriu e aceitou o desafio. Resultou nesta apreciação. Poderia ter tido um resultado diferente e seria igualmente apreciado. Deixo o meu agradecimento ao Daniel, que me ajudou a comprovar que a subtileza funciona e inclusive se torna num prazer maior quando relida. O conto, como sabem, continua aqui. Qual é a vossa opinião?